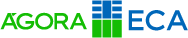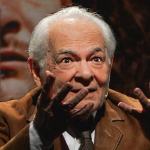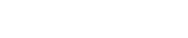Altos e baixos de uma trajetória gloriosa
“Máquina do Desejo” é um filme gigante com múltiplos aspectos do fenômeno que foi e é o Teatro Oficina
A estreia antecipada do filme “Máquina do Desejo” de Joaquim Castro e Lucas Weglinski, sobre os 65 anos do Teatro Oficina, duas semanas depois da morte do José Celso Martinez Corrêa, reaviva as emoções dos amigos e aficionados do grande artista que se foi. Mas será uma oportunidade para o grande público e todos os brasileiros conhecerem melhor e de perto a saga dessa singularíssima obra coletiva de várias gerações.
O filme é resultado de um trabalho de muitos anos de garimpo nos arquivos audiovisuais do Oficina e consegue reunir um conjunto inédito de imagens históricas, que apanham desde os primeiros espetáculos do grupo, no início dos anos 1960, a todas as mutações pelas quais Zé Celso e aquele coletivo passaram. Entre estas a do próprio espaço da rua Jaceguai, que nestas sete décadas transfigurou-se em várias conformações distintas e cuja metamorfose serve como um guia ao espectador do filme, para acompanhar as diversas revoluções que Zé Celso e o Oficina Usyna Uzona experimentaram.
Sim, revoluções. O Oficina nunca parou de se reinventar e nunca temeu abandonar as conquistas alcançadas em busca de novos caminhos, de novas aspirações. Foi, e é ainda, uma verdadeira “máquina do desejo”, que sempre esteve ativa e, mesmo quando pareceu desligada, nunca deixou de operar mudanças, engendrar desafios e realizar impossíveis.
Me proponho comentar o filme de Castro e Weglinski na chave do aspecto menos notório do Oficina, quando, passada a fase gloriosa dos anos 1960/1970, e antes do renascimento fabuloso nos anos 1990, o grupo propriamente hibernou e esteve em modo de latência, refazendo-se de embates terríveis e de um real estilhaçamento. Na medida em que os autores traçam um arco completo, desde a inauguração em 1958 até os dias de hoje, próximos da morte de Zé Celso, sobressai o longo e árido período em que o coletivo e seu espaço tiveram de atravessar antes da reinauguração em 1994.
Foi em um momento desse período de vacas magras que conheci Zé Celso e me tornei seu amigo. Mais precisamente em 1985, quando encenei com meu grupo, Os Verdadeiros Artistas, “Síntese e Surpresa: Fragmentos do Teatro Futurista”, a partir de duas dezenas de “sínteses” escritas pelos artistas do Futurismo Italiano no início dos anos 1910, antes da Primeira Guerra Mundial e da adesão de Marinetti ao fascismo de Mussolini nos anos 1920. Zé Celso foi assistir e me procurou depois. Ele buscava um ator para encarnar Dionísio na montagem que preparava de “Bacantes”. Apesar de, rapidamente, ter ficado claro que eu não era este ator, e de logo Marcelo Drummond ter aparecido na vida de Zé e do Oficina para encarnar o “deus do barulho”, me tornei um seu interlocutor constante. A situação era muito difícil. O Teatro tinha sido desapropriado e tombado pelo Governo do Estado e demolido para a construção do projeto de Lina Bo Bardi e Edson Elito. Naquele espaço vazio, ou “teatro invisível”, como o nomeou um crítico de teatro alemão que levei para visitá-lo e encontrar Zé Celso, começaram a acontecer ações e encenações que germinariam a concretização da Usyna Uzona e do “terreiro eletrônico”. Uma das primeiras foi “Acordes”, a partir das peças didáticas de Brecht, incluindo “Voo sobre o Oceano”, com a participação de Paulo Cesar Pereio. Na época eu trabalhava como redator da Folha de S. Paulo e escrevi meu primeiro texto crítico no jornal, “A Missa Nô do Oficina”. Era afinal o primeiro espetáculo do Oficina que eu assistia, ou a primeira vez que confrontava uma obra de Zé Celso como encenador e não pude deixar de reconhecer que ali se anunciava uma virada de página sensacional. Um articulista do jornal tinha, na véspera, sentenciado que “Zé Celso quer mamar!”. Fazia coro com um consenso criado a partir do vaticínio de Telmo Martino, alguns anos antes, tachando Zé de “o decano do ócio”. Essa miopia era de algum modo generalizada e projetava maldosamente um artista decadente e acomodado.
O episódio cabe nessa apreciação sobre o filme “Máquina do Desejo”, porque, justamente, ilustra bem o deserto que o Oficina atravessou antes de chegar vitorioso como chega aos seus 65 anos, próximo de realizar o projeto do fértil e verdejante Parque do Rio Bexiga, para proteger o seu entorno. O filme cobre bem e fartamente essa fase longa de seca e osso duro, realçando as figuras fundamentais na resistência. Pessoas como Zuria, a cozinheira que manteve o Oficina de pé e alimentado por mais de uma década, e Surubim, o artista popular que liderou o processo de desapropriação, tombamento e demolição. No seu discurso de improviso diante do governador Franco Montoro, no dia da assinatura da desapropriação, Surubim já antecipa, como bom sertanejo arretado, a perspectiva de encenar “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, o que só se concretizaria 20 anos depois, nas gloriosas cinco montagens inesquecíveis, mas soava à época como utopia alucinada.
A “Máquina do Desejo” é um filme gigante e traz múltiplos aspectos desse fenômeno incomparável que foi e é o Teatro Oficina. Mas a precisão com que percorre todas as fases, inclusive essa do refluxo, da escassez e descrédito, só engrandece a trajetória do grupo e de Zé Celso, Conselheiro que manteve o leme firme nas piores borrascas e alcançou ótimo porto. Foi uma façanha sem precedentes na história do teatro e da vida cultural brasileira. O filme registra e eterniza o feito.

Cenas de “A Máquina do Desejo”
Luiz Fernando Ramos, professor de História e Teoria do Teatro do Departamento de Artes Cênicas da ECA

O maior artista do teatro brasileiro
“José Celso Martinez Corrêa é o maior artista do teatro brasileiro de todos os tempos. Ele teria como rivais João Caetano no século 19, Arthur Azevedo, já no começo do século 20, o grande Procópio Ferreira e Leopoldo Fróes nos anos 1920 e 1930 e as divas dos anos 1950, principalmente Cacilda Becker, que é uma espécie de mãe espiritual dele. Mas comparado a todos esses gigantes do teatro brasileiro, ele foi o que constituiu a mais genuína forma cênica de teatralidade brasileira, comparável às maiores realizações dos grandes encenadores dos séculos 20 e 21. Então, por tudo isso, ele é o nosso maior artista no teatro e um dos maiores de sua época.”
“Ele é único justamente pelo fato de, entre todos os artistas brasileiros de teatro, como seus companheiros de geração Augusto Boal e Antunes Filho – que deram contribuições muito importantes para as artes cênicas brasileiras –, ter sido o que mais genuinamente criou uma linguagem própria, uma poética cênica própria. Uma poesia cênica de exportação que foi sonhada por Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Alcântara Machado e que ele desde os anos 1960 vinha constituindo incessantemente. Ele nunca parou de arriscar, de avançar”.
“Ele deixa principalmente um legado insuperável que é o próprio Teatro Oficina, com 65 anos de atividade, uma organização em torno de um espaço que a cidade com certeza acabará assimilando. Ele deixa para a eternidade essa contribuição, na medida em que várias gerações que passaram por lá são seus legítimos seguidores e continuadores de sua obra.”
Declarações de Luiz Fernando Ramos no artigo “Eu não sou de resistir. Eu sou de reexistir”, do Jornal da USP